
Bioeconomia e o fundamental protagonismo indígena
A bioeconomia é um caminho promissor para o sucesso da transição rumo a uma nova economia para a Amazônia e o Brasil, gerando benefícios às pessoas e à natureza. Uma das condições para o sucesso de estratégias de estímulo à bioeconomia é o protagonismo dos povos indígenas e comunidades locais. Apesar das sociedades indígenas concentrarem amplo conhecimento, sabedoria e tradição na economia da floresta, esses povos não têm recebido o devido respeito e reconhecimento nos processos de construção conceitual e material da descarbonização da economia brasileira.
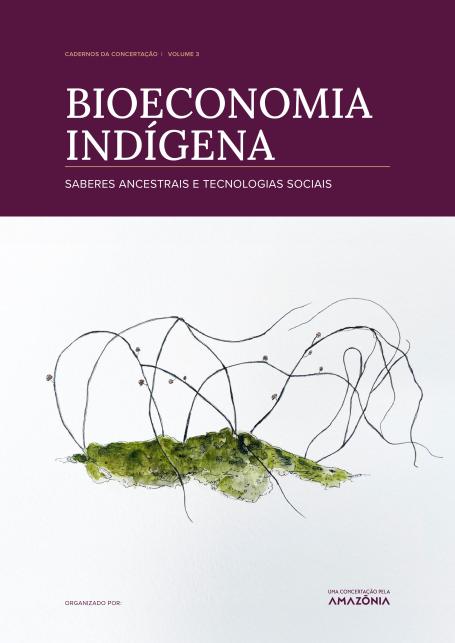
Para reforçar a importância da perspectiva dos povos originários nessa discussão, os antropólogos indígenas Braulina Baniwa e Francisco Apurinã, em colaboração com WRI Brasil, Uma Concertação Pela Amazônia e parceiros, produziram o estudo Bioeconomia indígena: saberes ancestrais e tecnologias sociais. O trabalho enfatiza a relevância do território como o princípio fundamental de existência, da cosmovisão, do bem viver e dos conhecimentos práticos que regem a economia da floresta em pé e dos rios fluindo.
O trabalho traz elementos importantes para os debates sobre políticas públicas como a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, Política Nacional de Bioeconomia e o Plano de Transformação Ecológica.
Veja a gravação do webinar de lançamento do estudo
Abaixo, abordamos alguns dos aspectos relevantes para a bioeconomia nos territórios indígenas, onde toda a economia é bioeconomia.
O que é bioeconomia na visão indígena?
Para os povos indígenas o nome é menos importante do que o seu significado. Por natureza e cultura, a (bio)economia é um modo de se relacionar com o mundo garantindo a perpetuidade da existência e dos conhecimentos humanos, não-humanos e mais do que humanos, ou seja, é o bem viver coletivo, num sistema sem externalidades. Por isso, para os indígenas, é impossível pensar, falar, produzir ou tomar qualquer decisão dissociada de seus territórios, nos quais os humanos são apenas mais um elemento da natureza.
A cosmovisão do povo indígena Apurinã é um exemplo que ajuda a compreender a forma indígena de pensar, enxergar e estar no mundo. Ela compreende a existência de três mundos: ikyra thyxi (mundo de cima/céu), ywa thyxi (este mundo/terra) e ywa ypatape thixi (mundo de baixo/subterrâneo), que estão conectados e constantemente em diálogo.
Outro exemplo dessa maneira de estar na natureza ocorre no Xingu. As coletoras Ikpeng, autodenominadas Yarang (formigas), nunca recolhem todas as sementes que encontram pelas trilhas, porque sementes são filhas das árvores, e é preciso deixar crescer samaúmas, pequizeiros e buritis para que possam ser encontrados pelas novas gerações.
Os povos indígenas entendem que aquilo que se convencionou chamar de mudanças climáticas, aquecimento global e, mais recentemente, antropoceno, seja a natureza reagindo, por meio de agências espirituais guardiãs controladoras de diferentes mundos e ecossistemas, contra os ataques e as destruições provocados pelas ações humanas.
Assim, a economia indígena está contida na natureza. Essa visão sofisticada que aparece na literatura econômica em meados do século passado há milênios rege os conceitos e práticas indígenas.
Cultura ancestral se perpetua durante a produção
A bioeconomia extrapola os territórios e já conta com histórias de sucesso. Nas últimas décadas, muitos povos indígenas passaram a comercializar sua produção. Embora não existam estatísticas sobre o tamanho desse mercado, a bioeconomia é a base da segurança alimentar e promove geração de renda através da venda de produtos extraídos e manufaturados nos territórios, ligando-os com outras populações locais e com o resto do mundo. São os casos do café produzido pelo povo indígena Paiter-Suruí, do cogumelo Yanomami, da pimenta Baniwa, dos grafismos estampados nas indumentárias confeccionadas pelo povo Yawanawa e de uma enorme variedade de produtos e técnicas que se popularizaram na cultura brasileira, como a tapioca, o beiju, o açaí, o vinho do buriti e tantos outros.

A bioeconomia indígena é mais do que os produtos – são os processos que a definem. É durante a produção que as tecnologias sociais e o conhecimento ancestral são transmitidos entre diferentes gerações. A diversidade da cerâmica produzida pelas mulheres Baniwa, por exemplo, é a continuação das weronaipemi wanekhe (conhecimento das avós). A cerâmica é uma arte muito complexa de produção, pois envolve várias técnicas. Primeiro, deve-se coletar a matéria-prima (argila), que não pode ser encontrada em qualquer lugar, somente dentro ou nas margens específicas de determinados igarapés. Tem cores variadas, como amarela, branca e vermelha. As mulheres devem saber o local e o momento adequados da retirada do material, e pela tradição Baniwa devem estar bem consigo mesmas, sem estresse.
A elaboração da mistura é feita com casca de árvore nativa, que deve ser fresca mas não tirada na hora. Essa mistura deve ser feita apenas por uma mulher, em geral mães, mas a produção tem participação de meninas, sempre com supervisão de uma pessoa mais velha. O produto final não é apenas a cerâmica, mas o amalgama de argila, casca de árvore, água, fogo, histórias, mitos e valores que resistem muito além do que o barro.

Há muito a aprender com os povos indígenas
O estudo de Braulina Baniwa e Francisco Apurinã contribui para deixar claros alguns pilares da relação indígena com a economia. O modo sustentável de produzir, no ritmo das aldeias e em consonância com a natureza, visando obter ganhos suficientes para o bem viver coletivo. O trabalho das associações de base que unem técnicas locais e aprendidas de outros povos, somando conhecimentos indígenas e não indígenas. A relação de alteridade, respeito e reciprocidade entre humanos e “mais que humanos”.
O Brasil tem 1,7 milhão de pessoas indígenas, o que representa 0,83% da população total do país, de acordo com o Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Estudo do Instituto Sociambiental (ISA) mostra que são mais de 266 povos indígenas, que falam mais de 160 línguas e vivem em 731 terras em diferentes estágios de reconhecimento legal. Do total, são 490 terras com demarcação concluída e 241 em processo de demarcação.
Há uma gigantesca diversidade cultural e grande heterogeneidade em suas economias, mas há também muitos pontos de convergência. O que salta aos olhos é que a economia, para os povos originários, é a abundância, e não escassez, porque suas necessidades não são ilimitadas. A abundância não é traduzida simplesmente em quantidade, mas pela diversidade que sacia humanos e animais, e permitem reproduzir-se em infindas gerações.
De fato, as descobertas de grandes cidades amazônicas pré-colombianas nos mostram como as florestas são grandes sistemas agroflorestais manejados há mais de 3 mil gerações pelas populações originárias. Um manejo integrado e diverso, que na nomenclatura científica se convencionou chamar de agricultura sintrópica, ou seja, aquela capaz de lidar com a entropia, promovendo ciclagem de nutrientes, entradas e saídas de energia equilibradas que conservam ou restauram os ciclos de produção material.
Não é apenas nas ciências agronômicas que estamos aprendendo com indígenas. Nossa ciência econômica se dedica a entender a formação do valor, sua precificação e distribuição. O conhecimento indígena é análogo: pratica os conceitos de valor de uso e valor de troca e trata com naturalidade o fato de que nem tudo que é valioso tem preço. As maiores diferenças entre a economia indígena e a não indígena estão no fato de que o sistema econômico indígena está contido na natureza e, portanto, não há externalidades. Além disso, a remuneração não é necessariamente proporcional à dotação dos fatores de produção: é justo dar mais para quem tem menos.
Povos indígenas precisam ter protagonismo na concepção de uma nova economia
A economia dos povos indígenas, desde sempre calcada no bem viver, é fundamental para traçar os parâmetros do que os povos não indígenas estão chamando de “bioeconomia”. Nas discussões sobre políticas públicas de estímulo a essa transição nos territórios indígenas, será preciso incorporar tais conceitos. São povos que sempre tiveram como base a economia sustentada nos biomas.
A Nova Economia da Amazônia e este recente estudo trazem avanços, porém ainda é necessário dar ainda mais protagonismo a pesquisadores e povos indígenas para que as estratégias voltadas para a transição da economia na Amazônia e no Brasil respeitem os saberes ancestrais e valorizem seus conhecimentos. Qualquer visão de nova economia com transição justa só terá sucesso se os povos indígenas fizerem parte das discussões, análises, estratégias, decisões e da implementação.